Além do que se vê: imigrantes africanos relatam racismo e xenofobia na Bahia

“Salvador, Bahia, território africano…”. Se seu coração é de Carnaval, talvez você tenha completado mentalmente o trecho aspeado, que abre tanto este texto quanto o hit do cantor Saulo Fernandes. “Baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz” que diz o quê? Se esse ‘baiano’ veio de fato da África, agora no século 21, talvez ele tenha algo a denunciar: a letra está muito equivocada sobre o tipo de recepção que boa parte dos cerca de 1,5 mil africanos que vivem na Bahia tiveram ao chegar aqui.
A tal democracia racial citada nos versos, bem como a generalização de um suposto acolhimento inerente ao povo baiano com quem é de fora – e a identificação praticamente ancestral com a África e seus filhos – parece, no mínimo, fora do tom, sem melodia.
A realidade passa longe da poesia, e a vida de imigrantes africanos em Salvador também é marcada por preconceitos, invisibilização e uma série de medos e dificuldades na cidade que se vende como a mais negra fora da África.
O Censo de 2010, já desatualizado, apontava que, um ano após Andrêa Ferreira, natural de Cabo Verde, desembarcar em Salvador, havia 330 cidadãos nascidos em países africanos residindo em toda a Bahia. Àquela altura, os três países africanos que mais tinham ‘filhos adotados’ pela Bahia eram Angola (133), Moçambique (44) e Nigéria (26). Dados mais atualizados, publicados pelo Atlas Temático Migrações Internacionais, de 2019, já apontavam que 1.489 migrantes oriundos do continente africano residiam no estado.
Dificuldades básicas
Ao ouvir apenas uma pequena amostra desse grupo, já foi possível compreender que a vida de um africano, na Bahia, não costuma ser nada fácil. Os relatos vão de uma estudante cabo-verdiana que teve sérias dificuldades para conseguir serviços simples, como abrir uma conta bancária, a uma mãe bissau-guineense que, após muitos constrangimentos passados na capital dos baianos, não titubeou em classificar: “o racismo em Salvador é surreal”.
A cabo-verdiana Andrêa Ferreira, 32 anos, chegou à cidade em 2009 para estudar Nutrição na Universidade Federal da Bahia (Ufba), após ser aprovada num projeto de mobilidade estudantil. Desembarcar no Brasil direto para um contexto tão elitizado quanto a universidade pública fez
com que Andrêa descartasse passar por situações esdrúxulas à qual foi submetida: colegas de classe perguntavam como ela chegou ao Brasil e tinham dúvidas se poderia, por exemplo, viajar de avião vinda de onde veio.
A ideia genérica que se tem da África, um continente de 54 países e quase 1,5 bilhão de pessoas em seu território de mais de 30 mil quilômetros quadrados, é de que toda essa imensidão é um grande safári onde as pessoas passam fome e vivem rodeadas de elefantes, girafas e leões. Urbanização não está dentro do imaginário criado sobre o continente para muitas pessoas.
“Cheguei com a ideia de que teria um superacolhimento e foi um choque muito grande. Descobri que sou uma mulher negra, o debate racial no meu país não é tão avançado quanto no Brasil. Descobrir quem eu sou nesse contexto, e entender certas perguntas e preconceito foi muito duro, doloroso”, explica a nutricionista, que ainda vive em Salvador.
Ela conta ainda que teve muitas dificuldades para conseguir alugar um lugar para morar, mesmo tendo dinheiro para isso, e abrir uma conta bancária foi um processo penoso, que durou mais de dois anos. Isso sem contar as inúmeras vezes que as pessoas saíam de perto dela e de seus amigos no transporte público, chegando a ouvir que eles eram sujos.
“Perguntavam se eu vim de jangada, de barco. Perguntavam se eu usava calça jeans na África, e eu ficava sem entender o porquê dessas perguntas num espaço onde as pessoas, teoricamente, teriam acesso à informação”, lamenta Andrêa, após os 13 anos de Salvador.
Surreal e mais cruel
Mestranda em Antropologia pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), Domingas da Silva vive no Brasil desde 2014, quando deixou Guiné-Bissau para morar no Ceará, onde cursou Ciências Sociais no Campus da Liberdade, na cidade de Redenção, a 60 km de Fortaleza.
Foram 7 anos por lá até que, no final de 2020, decidiu morar em Salvador com seu marido, há 11 anos na Bahia. O casal bissau-guineense já tinha o pequeno Amir Salim da Silva Baldé, hoje com 2 anos, e por conta da pandemia decidiu ficar por aqui. Mesmo numa cidade com muito mais negros e se identificando com fatores como cultura e culinária,
Domingas é taxativa ao cravar que “o racismo daqui é surreal”.
“Não tem um dia que eu saia na rua e não perguntem de onde eu sou. Me olham como inferior, desnecessária, como uma pessoa que não sabe de nada e veio até aqui por conta de fome e miséria. Os cearenses são preconceituosos, mas pelo menos não demonstram. Aqui, é muito direto o preconceito com nós, que somos africanos”, desabafa Domingas.
Toda essa situação gera um dilema enorme na cabeça de Domingas. Ao mesmo tempo que ela reconhece como o Brasil lhe abriu oportunidades de formação e educação que não teria no próprio país, o preconceito e índices de violência daqui a deixam muito temerosa. Ora, hoje os planos são não somente para ela, mas para toda a família.
|
|
|
Domingas carrega o filho Amir no colo (Foto: Acervo Pessoal) |
Ela acredita que qualquer mãe tem medo de criar um filho no Brasil. Sendo negro, mais ainda. Sendo negro e africano, piorou. Aqui, há raízes de todo bem e de todo mal, também, muitas vezes andando lado a lado. “No Brasil, você pode ser tudo. Aqui, meu filho pode estudar, seguir um bom caminho, mas também pode ser bandido, e o certo é que ele vai sofrer em todos os lugares”, projeta Domingas.
“Meu filho nasceu aqui no Brasil, tem cidadania brasileira, mas quando ele crescer, os brasileiros vão reconhecê-lo na sociedade? Não, não vão. Por ser filho de dois africanos, uma pessoa sem conhecimento vai dizer que ele é africano. Aqui a violência acontece e não dá em nada. Isso é perverso”, analisa.
Sair do Brasil após constituir família não é uma realidade incomum a muitas amigas de Domingas, que buscam uma vida mais segura em países como Portugal, Alemanha e França. E essa é uma possibilidade que ela não descarta.
Olhar estrangeiro
Quem é daqui de Salvador, e vive lá, também avalia que o racismo nosso de cada dia é mais cruel, explícito, naturalizado e, portanto, corriqueiro. É o caso da musicista Kívia Santos, que mora em Genebra, na Suíça, e não deixou de sofrer racismo na Europa.
No entanto, pontua que, lá, pelo menos, há um esforço – que também não é suficiente para que a tratem como “um animal no zoológico, que todo mundo quer olhar”.
“Aqui me colocam sempre no lugar do exótico. Querem pegar em meu cabelo, falar de minha pele, como se eu fosse um animal no zoológico. Em Salvador, sinto que isso é mais flagrante porque foram naturalizados certos comentários, piadas, e isso tudo faz com que muitas pessoas não tenham noção que são racistas e, na verdade, estão sendo”, comenta.
|
|
|
Após sofrer com o racismo no exterior, a musicista Kívia Santos avalia o racismo baiano como mais cruel (Foto: Acervo Pessoal) |
***
‘Eles sofrem o que nós negros sofremos no Brasil, mas de maneira intensificada’, diz professor
Coordenador do Programa Direito e Relações Raciais da Ufba, o professor Samuel Vida explica que o fator racial é o principal componente motivador dessas agressões, e que não é possível dissociar a xenofobia do racismo nesses casos.
Para Samuel Vida, um país violento com sua própria população negra não seria diferente com uma população negra e estrangeira. Muito pelo contrário. A tendência é ser ainda mais cruel.
O professor da Faculdade de Direito destaca ainda que a dinâmica da política migratória em toda a história brasileira sempre valorizou imigrantes brancos e europeus enquanto, por outro lado, proibia imigrantes africanos de serem recebidos no país – exceto nos períodos de imigração forçada no período escravocrata.
Imediatamente após a abolição da escravatura, em maio de 1888, o presidente Marechal Deodoro da Fonseca emitiu esse decreto que apareceu também no Estado Novo, em 1945, quando o então presidente Getúlio Vargas reiterou a interdição a africanos além de afirmar, textualmente, a “necessidade de preservar e desenvolver, na composição étnica da população, as características mais convenientes da sua ascendência europeia”.
|
|
|
Samuel Vida aponta que a política migratória do Brasil sempre menosprezou e até rechaçou imigrantes africanos (Foto: OAB-BA/Divulgação) |
Segundo Samuel, “imigrantes africanos e de outros países como o Haiti, sofrem uma espécie de xenofobia inseparável do racismo”.
“O que eles sofrem é o que nós negros sofremos no Brasil, mas de uma maneira intensificada”, explica o professor, que é autor do artigo ‘Africanos no Brasil: uma ameaça ao paraíso racial’, enviado ao seminário internacional Migrações Internacionais – Contribuições para Políticas, da Comissão Nacional de População e Desenvolvimento (CNPD).
O professor Samuel é pessimista quanto à reversão do cenário racista para esse grupo, e acredita que a mudança dessa cultura de anti-negritude é o grande desafio civilizatório e democrático do Brasil.
Na Bahia, a população que migrou da África para cá quase quintuplicou nos últimos dez anos. Atualmente, São Francisco do Conde, no Recôncavo, onde fica a Unilab, é o local que concentra um número maior de migrantes africanos. Mas apesar do aumento expressivo, nos últimos anos, a Bahia recebeu menos migrantes vindo dos países africanos do que Rio Grande do Sul e Ceará, por exemplo, estacionando no patamar próximo dos 1,5 mil.
A quantidade de migrantes africanos em São Francisco do Conde tem explicação óbvia. Um dos objetivos da fundação da Unilab, em 2010, foi criar vínculos entre o Brasil e os demais países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), especialmente os países africanos, bem como promover o desenvolvimento regional e o intercâmbio cultural, científico e educacional.
Apoio
O caminho para que o África iôiô não seja um verso hipócrita na Bahia e no Brasil passa por educação, políticas reparatórias e ouvidos mais atentos para denúncias feitas pelo movimento negro em busca de mais dignidades de pretas e pretos – de qualquer nacionalidade – aqui no país.
Professora do Núcleo de Apoio aos Migrantes e Refugiados da Universidade Federal da Bahia (Namir/Ufba) e pesquisadora do tema de mobilidade humana, Mariângela Nascimento enumera que o grupo vem tomando uma série de ações dentro e fora da Universidade para que os migrantes africanos possam desfrutar de cidadania plena dentro do Brasil. Entre as ações, ela cita um curso promovido pela Ufba que capacitou estudantes e servidores para acolhimento a migrantes e refugiados na Bahia, realizado em 2020. O Namir também colaborou com a confecção de uma cartilha em parceria com o Centro de Atendimento ao Migrante e apoiadores da causa chamada ‘Os caminhos dos(as) migrantes e refugiados(as) na Bahia’, que é distribuída por toda a cidade.
“A cartilha é um instrumento informativo e pedagógico, que contribui para ampliar o conhecimento de ativistas e do poder público, que se envolvem com a realidade migratória, sobre a nova legislação brasileira de migração”, disse a professora Mariângela Nascimento.
Mais recentemente, o Namir propôs à Ufba a criação de um Centro de atendimento para estudantes, que oferecerá suporte jurídico para questões como regularização documental, informar sobre instrumentos de defesa, dar encaminhamento a órgãos públicos brasileiros, principalmente na questão de assistência social, promover oficinas temáticas e cursos profissionalizantes para os migrantes.
“Parte dos imigrantes já são atendidos por nós. Com a inauguração do CRAI teremos margem para contemplar mais pessoas, investindo em suas habilidades profissionais, oferecendo, entre outros benefícios, cursos profissionalizantes para que eles possam ingressar no mercado de trabalho e conquistarem sua autonomia financeira, além de cursos de idiomas. Também vamos continuar garantindo a segurança alimentar, com a distribuição de cestas básicas para estas famílias”, declarou o secretário.

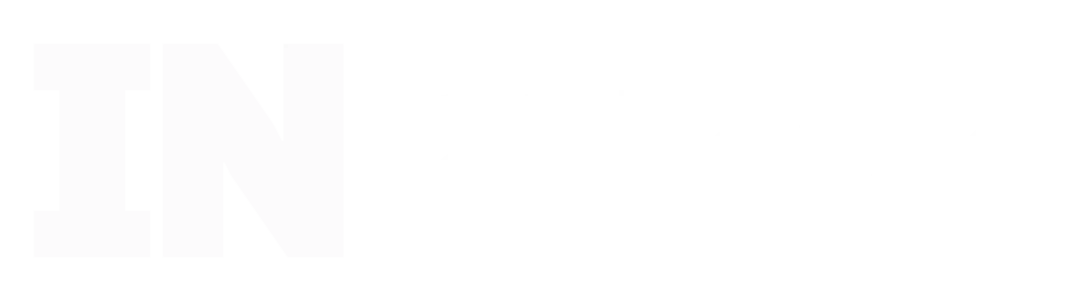






No Comment! Be the first one.