É possível desradicalizar extremistas? Atos terroristas em Brasília provocam debate
Depois do terror das invasões antidemocráticas em Brasília, no último domingo (8), os dias seguintes foram de outros sentimentos. Medo de que ataques terroristas se repetissem. Revolta pelo que foi destruído. Senso de que é preciso haver responsabilização. E, por parte de quem está no comando, uma notória determinação para dar nomes às coisas: quando determinou a intervenção no Distrito Federal (DF), naquele mesmo dia, o presidente Lula (PT) chamou os criminosos de “fascistas fanáticos”.
Horas depois, na decisão em que afastou o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), fez uma analogia que leva a interpretações importantes.
“A democracia brasileira não irá mais suportar a ignóbil política de apaziguamento, cujo fracasso foi amplamente demonstrado na tentativa de acordo do primeiro-ministro inglês Neville Chamberlain com Adolf Hitler”, escreveu.
A menção a Hitler, líder do Partido Nazista alemão e figura central no Holocausto, não foi por acaso. Ao mesmo tempo, nas redes sociais, ao longo de toda a última semana, viralizavam piadas sobre “vovós e vovôs terroristas”. A brincadeira com os mais velhos não era nenhum exagero. Quando a Secretaria de Administração Penitenciária do DF divulgou a lista com o nome dos presos e a data de nascimento dos presos, na quarta-feira (11), mais de 60% tinham acima de 40 anos.
A sensação é de que uma linha foi atravessada – e, na verdade, ela teria sido cruzada há muito tempo. Mas, agora, o flerte com o abismo parece nunca ter sido tão evidente. Quando tanta gente acha razoável destruir prédios institucionais e obras de arte como uma tela de Di Cavalcanti (avaliada em pelo menos R$ 8 milhões) ou um vaso chinês de 3,5 mil anos, seria um sinal de que a radicalização alcançou níveis nunca vistos.
Diferentes pesquisadores ouvidos pela reportagem vão além: para eles, o Brasil passou por um processo de fascistização nos últimos anos. Não é a primeira vez na história do país e, como ressalta o professor Jason Stanley, da Universidade de Yale (EUA) e autor do bestseller internacional Como Funciona o Fascismo: A Política do “Nós”e “Eles”, nem seria preciso olhar para os exemplos europeus.
Segundo ele, os invasores golpistas de Brasília seriam o fascismo latinoamericano. “O fascismo é uma vertente antidemocrática da extrema-direita que diz que não podemos ter democracia porque, se tivermos, a esquerda vai tomar o controle. Defendem que precisamos preservar a nação e que, para isso, vamos sequestrar, torturar, acabar com os direitos das mulheres”, diz ele, em entrevista ao CORREIO.
Seria possível fazer o caminho inverso e, portanto, desradicalizar extremistas – ou, ainda, desfascistizá-los? Apesar do quão recente foram os atos antidemocráticos e da sequência de descobertas nos dias que os seguiram, como a possível ajuda de militares ou mesmo de uma minuta para decretar um golpe encontrada no armário do ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL), Anderson Torres, exemplos de outros países ajudam a pensar em possíveis caminhos para isso.
Leia mais: ‘Quando começam a pensar que o fascismo é normal, se voltam contra a democracia’, diz Jason Stanley
Radicalizados
Essa parcela da população não se tornou extremista – ou até terrorista – de uma hora para outra. Não é de hoje que a sociedade brasileira, de forma geral, é conservadora e tem preconceitos de raça, classe e gênero. Ter uma elite com pensamento reacionário antecede políticos contemporâneos, inclusive Jair Bolsonaro.
Quem diz isso é o sociólogo digital Leonardo F. Nascimento, professor do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia (Ufba). No entanto, segundo ele, chama a atenção que, nos últimos anos, esses movimentos tenham começado a ocupar espaços tanto das redes sociais quanto das ruas – essas últimas historicamente mais associadas à esquerda.
“Não é um grupo homogêneo, único. Cada grupo conservador, vamos dizer assim, que serve de base de suporte para o ex-presidente (Bolsonaro) tem características distintas. São pessoas que se viram ameaçadas pelos avanços de determinados setores, como o debate de gênero. Tem um caldo que é, ao mesmo tempo, religioso, militar e de pânico moral”, aponta.
Não dá para ignorar o papel que as plataformas digitais tiveram neste contexto. A pesquisadora Nina Santos, que estuda comunicação política, destaca o alto nível de fragmentação no ambiente digital. A consequência disso é que as pessoas podem escolher e ter acesso a informações específicas de acordo com fatores que vão desde seu gosto pessoal até a região onde moram, raça, gênero, idade e preferência política.
“O que acaba acontecendo é que a gente tem, dentro da sociedade, grupos de pessoas que se informam de maneiras muito diferentes”, diz Nina, que é diretora do Aláfia Lab, coordenadora geral do *desinformante e pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital (INCT.DD).
Assim, a diferença em como as pessoas se informam é também a partir de onde formam sua visão de mundo. “Isso faz com que grande parte da realidade não seja compartilhada pela sociedade e pode criar processos de radicalização”, avalia.
Humanas
Desradicalizar, por si, passa por um processo de aprendizado básico de relativização, um aprendizado comum das disciplinas de Humanidades, como ressalta o professor Leonardo F. Nascimento.
“Ou seja, perceber como a realidade social é construída, desconstruída e como pode ser reconstruída. A relativização é a base para a construção de um pensamento crítico da realidade. O pensamento crítico, para essas pessoas, é assustador, tanto que elas detestam coisas de Humanas, de Sociologia e Filosofia”, explica, citando elementos de dogmatismo e crenças inabaláveis sobre a família que adicionariam um tempero extra à situação.
Aprende-se a relativizar nas escolas com formação de qualidade, mas não apenas nelas. O professor cita museus e memoriais, além de exemplos de reconhecimento. No Canadá, por exemplo, há um projeto denominado Reconciliation (reconciliação), em que todos os canadenses devem reconhecer que os territórios em que o país foi construído pertencia aos povos originários locais, as chamadas primeiras nações. Antes de eventos, por exemplo, sempre é citado que o local era território dessas seis nações.
“Não estou dizendo que vai resolver todos os problemas, nem fazer esquecer as atrocidades da colonização. Mas é uma forma contemporânea de reconhecer e fazer marcos históricos. A gente precisa disso”, enfatiza Nascimento. “Temos que construir uma sociedade mais crítica, porque não vai adiantar ter milhões de agências de checagem se as pessoas não estiverem treinadas”, acrescenta, citando a importância de formação, programas de TV e filmes críticos, literatura e música.
A ministra da Cultura, Margareth Menezes, e o ministro dos Direitos Humanos, já adiantaram, na última semana, a intenção de criar memoriais sobre democracia e direitos humanos. A ideia ganhou força depois dos atos terroristas. No entanto, são projetos que vão atingir especialmente as gerações mais jovens.
Para os mais velhos – parcela importante dos que participaram das invasões golpistas -, ainda seria preciso estudar mais iniciativas. “Mas, num curto prazo, é preciso que essas pessoas entendam que estão cometendo crimes”, diz o professor Leonardo F. Nascimento, citando a importância da criminalização neste contexto.
Outra necessidade, na avaliação da pesquisadora Nina Santos, seria a de reconstruir pontes. Ter diversas fontes de informação não deve ser necessariamente algo ruim, especialmente se traz vozes que antes eram excluídas do debate público.
“Por outro lado, precisamos reconstruir essas pontes para que as pessoas tenham uma visão compartilhada da sociedade e não acabem optando por soluções muito individualistas”.
Políticas públicas que tornem isso possível estão sendo discutidas e construídas em todo o mundo. Uma delas é a regulação do ambiente digital, por vezes tratada apenas como regulação das plataformas. Ela vem sendo debatida em países da União Europeia e nos Estados Unidos devido à necessidade de ter regras para a circulação de informação e para a expressão das pessoas nesses ambientes.
“Se você anda na rua e expressa um insulto racista, pode ser condenado e ir para a cadeia. A mesma lei vale para o ambiente digital, mas a gente vê que muitas vezes não tem esse mesmo nível de implementação. Também precisamos de regras mais específicas”.
Crimes
Nas palavras do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), os golpistas que invadiram e vandalizaram os prédios em Brasília teriam cometido “um conjunto de crimes”. Entre eles, estariam a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado a patrimônio público e patrimônio tombado, associação criminosa, lesões corporais e até o crime de golpe de estado.
Mais de uma vez, Flavio Dino e outros ministros do governo federal, se referiram aos episódios como “terrorismo”. Além deles, a nota em defesa da democracia divulgada na última segunda-feira (9) também condena os “atos terroristas, de vandalismo, criminosos e golpistas” em Brasília. O comunicado foi assinado de forma conjunta pelo presidente Lula; pelo senador Veneziano do Rêgo, presidente do Senado em exercício na ocasião; pelo deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, e pela ministra Rosa Weber, presidente do STF.
No entanto, como pondera o advogado criminalista Gustavo Brito, todo crime é um ato ilícito, mas nem todo ato ilícito é um crime. “Não há como negar a gravidade dos acontecimentos ocorridos em 8 de janeiro. Entretanto, terrorismo é uma prática definida na Lei 13.260/2021, que exige uma motivação específica para a prática do ato, que seria: o ato praticado ‘por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião”, explica ele, que é mestrando em Ciências Criminais pela PUC-RS e vice-presidente da Comissão de Ciências Criminais da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Bahia (OAB-BA).
Ou seja: é possível afirmar que houve atos de terrorismo, mas não necessariamente crime de terrorismo. Ainda que o Brasil seja signatário de tratos internacionais que classificariam os acontecimentos como terrorismo, a lei que dispõe sobre o crime de terrorismo tem especificidades no país.
De acordo com o advogado, manifestações populares fazem parte da rotina de um país democrático. No entanto, há alguns anos já é possível perceber que alguns grupos passaram a adotar posturas mais agressivas que podem representar atos antidemocráticos. Manifestações, portanto, seguem sendo permitidas, mas ataques agressivos ao sistema democrático não é uma situação permitida em nenhum país.
“O mais importante é perceber que a liberdade, mesmo inviolável, não é uma carta branca para praticar todos e quaisquer atos. A depredação de patrimônio público e privado, a agressão física e moral a pessoas e instituições, são criminalizadas. Ainda que alguém se ache titular de um direito, isso não permite que eventual insatisfação com uma posição de um governo, ou uma ou dezenas de decisões de um Tribunal, permitam ataques violentos, invasão de prédios públicos e a depredação do patrimônio público”, explica Brito.
Desfascistizar
Para a historiadora Laura de Oliveira, professora do Departamento de História da Ufba, é “evidente” que a sociedade brasileira passou por um processo de fascistização. Seria um tanto diferente da nazificação, que é um processo específico da expressão do fascismo alemão – o nazismo.
“Se algumas pessoas julgam que usar a expressão ‘fascistas’ e ‘nazistas’ para esses bolsonaristas atribui um peso maior do que eles realmente têm, eu acho que, por um lado, retira a nossa capacidade de identificar a singularidade do fenômeno em nome de uma transposição histórica”, pondera.
O bolsonarismo, de acordo com ela, é um fenômeno de extrema-direita profundamente informado pela extrema-direita internacional.
“Temos que entender como a extrema-direita se articula hoje, internacionalmente, porque o nazismo era um fenômeno nacional. Nos anos 1930 e 1940, não tinha internet. O que se pode fazer com esse nível de inserção que esses grupos têm sobre a vida privada das pessoas, sobre a mente delas? O alcance disso é potencialmente muito maior”, opina.
Ela cita a sugestão da primeira-dama, Janja Silva, que já mencionou a tarefa de sensibilizar a sociedade brasileira para a miséria. “Existe uma parcela da sociedade brasileira que está indiferente. Se você quiser a desfascistização da sociedade, é preciso trabalhar isso”, diz.
Ainda assim, o sociólogo Michel Gherman, professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), aponta situações relacionadas ao próprio Bolsonaro . “Eu costumo dizer que estou longe de chamar Bolsonaro de nazista. Não é minha função. O que eu faço é tentar escutar o que ele diz, com muita honestidade”, diz ele, que é assessor do Instituto Brasil-Israel e pesquisador do Centro de Estudos Antissemitismo da Universidade Hebraica de Jerusalém.
O professor cita situações que vão desde elogios a Hitler como “excelente militar” em programas da televisão aberta a correspondências que teriam sido trocadas ainda em 2004 com grupos neonazistas – a descoberta foi feita pela antropóloga Adriana Dias, da Unicamp, em 2021. Outro exemplo seria o discurso feito no Clube Hebraica do Rio de Janeiro, em 2017.
“Ele transforma isso de forma mais palatável. No discurso, ele fala em hierarquia racial, fala que tem raças boas e ruins, algo típico da gramática nazista. Mas ele fala isso na Hebraica, do lado da bandeira de Israel. Vítimas histórias do nazismo são transformadas em aliados”. Gherman cita, ainda, a influência do ‘olavismo’ – a influência do ideólogo de extrema-direita Olavo de Carvalho, morto no ano passado.
No entanto, o Brasil teria vivido plenamente apenas a primeira fase desse processo de ascensão. A segunda fase teria tido início agora, com a transformação de símbolos da República em inimigos e com a destruição de obras de arte.
“Como a gente chegou nisso? Para entender, tem que ter projeto de educação, materiais sobre bolsonarismo, sobre nazismo, sobre a ideia da exclusão de grupos específicos e do direito de existir no Brasil”, diz.
De acordo com o professor, esse trabalho tem três elementos que seriam fundamentais. O primeiro é o reconhecimento do que ocorreu. O segundo seria de união e ressarcimento – algo que, em sua avaliação, deveria incluir também as vítimas evitáveis da pandemia. Por fim, o investimento em educação e informação para evitar que se repita.
Alemanha teve desnazificação, mas demorou décadas
A Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, passou por um processo que ficou conhecido como desnazificação. No entanto, foi um contexto muito particular devido ao fato de o nazismo ser uma expressão especificamente alemã do fascismo. De acordo com a historiadora Laura de Oliveira, professora da Ufba, os valores que subsidiaram o nazismo alemão existiam no país antes mesmo da existência desse nome ou da ascensão de Hitler ao poder.
Esse foi o caso do antissemitismo, que se acentuou na Europa no século 20. Os judeus, que antes emprestavam dinheiro aos negócios do Estado, perdiam agora privilégios, com a formação dos Estados nacionais, ao mesmo tempo que as teorias raciais começavam a se propagar.
Logo após perder a Primeira Guerra, a Alemanha passou por uma experiência progressista – o país foi governado pela social-democracia e fez reformas importantes. “Mas havia grupos, especialmente paramilitares, que acreditavam que essas reformas representavam a bolchevização da Alemanha. Tinham medo de que uma revolução como a que aconteceu na Rússia, em 1917, acontecesse também”, explica a professora.
No início dos anos 1930, as duas capitais consideradas mais cosmopolitas da Europa eram justamente Paris, na França, e Berlim. Já Munique era uma contraposição a Berlim, com domínio reacionário. É lá que o partido nazista é organizado.
“O nazismo começa antes de Hitler. Quando ele era um ilustre desconhecido, os grupos sociais que dariam respaldo a Hitler, amparados numa ideia de uma superioridade racial, de negação da cultura progressista e do modernismo alemão, tudo já estava posto”, diz Laura.
Após a guerra, porém, muitos alemães ainda acreditavam que o Holocausto não tinha sido o grande crime de Hitler. Segundo a professora Laura de Oliveira, era comum a avaliação de que o Holocausto havia sido um “erro tático”, algo que prejudicou a economia de guerra alemã. Naqueles anos imediatamente após o fim da guerra, mesmo com o julgamento de Nuremberg, muitos alemães não conseguiam atribuir peso moral à barbárie.
“Se você pensar um pouco nas políticas de memória, fica claro como esse processo de desnazificação da Alemanha foi um processo lento e gradual, porque a sensibilidade não só permanecia arraigada aos valores que tinham dado suporte ao nazismo desde os anos 1930, mas estava ainda ferida pela derrota na guerra”, diz.
É principalmente a partir dos anos 1970 que um conjunto de obras que ajudaram a construir essa política de memória começou a ser implementado de maneira mais efetiva. Para o sociólogo Michel Gherman, professor da UFRJ, um elemento fundamental na Alemanha foi compreender que não teria havido ascensão e consolidação do nazismo sem a adesão de grandes setores da sociedade alemã.
“O nazismo foi apoiado por pessoas normais”, enfatiza. “O que eles perceberam é que, se a punição fosse feita somente com pessoas vinculadas à última fase (quando já havia campos de concentração e extermínio), não teria desnazificação”, diz.
Mesmo assim, o escritor e cineasta Márcio Pitliuk, que é curador do Museu do Holocausto de São Paulo, destaca que o processo teve lacunas. Muitos dos nazistas nem chegaram a ser julgados.
“Alguns até continuaram no poder, porque interessava ao lado ocidental, porque eram contra o comunismo. Do lado oriental, também interessou manter esses nazistas. Depois de muitos anos é que alguns foram denunciados e tiveram que renunciar. Então, a desnazificação, na verdade, foi uma atitude política geral para que o povo condenasse isso”, explica.
Na avaliação dele, muita coisa foi “escondida embaixo do tapete”. “Era muito difícil encontrar um alemão que dizia que tinha sido da SS. Diziam apenas que tinham estado na guerra, como se não tivesse existido SS. Então, não teve um expurgo generalizado no país”, completa.

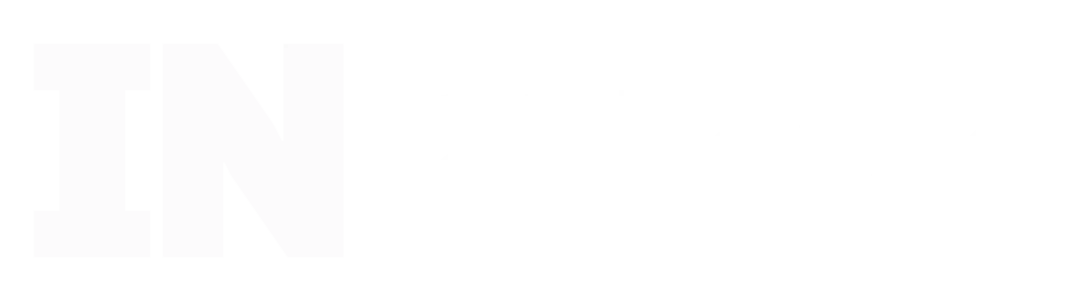



No Comment! Be the first one.