Entre os gigantes e os minúsculos
Não costumo reverberar o que bradam os néscios. Eles não me interessam. Mas esta semana nos deparamos com um episódio particularmente nefasto neste país habitualmente acostumado a episódios nefastos. No Rio Grande do Sul, trabalhadores em situação análoga à escravidão foram resgatados pela polícia. Eles trabalhavam para uma empresa terceirizada que prestava serviços a grandes produtores de vinho da região. A saber: Salton, Aurora e Cooperativa Garibaldi.
Grande parte dessa mão-de-obra escravizada saiu da Bahia. Eram pessoas simples, agredidas das mais diversas formas e impedidas de deixar o local em que estavam. Trabalho escravo neste estágio da civilização soa como uma anomalia, uma excrescência, mas é incomodamente comum no Brasil. O que me causa surpresa, no entanto, é que ainda existam pessoas, em plena terceira década do século 21, dispostas a defender essa forma vil de exploração. Como fez outro dia um vereador gaúcho, de quem não sei – nem me interessa saber – o nome.
É mais um desses néscios de que falei no início. Por que então perderia o meu tempo com ele? Porque discursos como o seu banalizam um ato hediondo, tornando-o “admissível”. E pior: não representam uma visão isolada, como um tolo pregando no deserto, mas sim um coletivo que cada vez mais ousa dizer o seu nome. Que esse elemento é um calhorda de quatro costados não há a menor dúvida. Que merece uma punição que vá além da perda do mandato, idem. Mas me intriga como chegamos a esse estágio de degradação.
Não há novidade em dizer que nossa sociedade está doente, cindida por sintomas que na verdade são variações de uma mesma patologia. Mas é revelador que a epidemia de cólera – ou de raiva, ira, preconceito, racismo ou qualquer outro termo que se queira usar – tenha se externado justamente nos últimos quatro anos. Como se um episódio contaminasse o outro e assim por diante. O Brasil de 2023 é fruto do Brasil de 2018, aquele que permitiu a ascensão da forma mais abjeta de canalhice.
Soube até que o tal vereador andou desancando o povo baiano, que segundo a sua imodesta opinião só sabe tocar tambor. Bem, como diria Dorival Caymmi, acontece que eu sou baiano. Nordestino, para ser mais abrangente. E nem mesmo sei tocar tambor. Como baiano, nordestino ou mesmo brasileiro, não me sinto atingido por essas ofensas. Como ser humano, sim. Se por um lado são uma aberração desferida por um idiota, por outro são o epílogo perfeito para o período mais obscuro da nossa história recente.
Regredimos décadas nos últimos quatro anos, quando as discussões a respeito de um dos países mais desiguais e miseráveis do mundo se restringiram a temas pinçados da Idade Média, permitindo a proliferação de uma improvável corja de neocarolas e neofascistas. Nesse território engolfado pelo fundamentalismo, a sensatez se torna um corpo estranho. Mas por mim já basta. Não dispensarei nem mais um segundo com esses tipos minúsculos.
*
Escrevo no mesmo dia da morte de Wayne Shorter. Não era um dos meus saxofonistas preferidos, mas não há dúvida de que foi um dos maiores. Escuto agora um álbum estupendo do célebre segundo quinteto de Miles Davis, do qual Shorter fez parte, junto com Herbie Hancock, Ron Carter e Tony Williams. É uma maneira de homenageá-lo. Mas também de deixar entrar um pouco de ar puro neste espaço um tanto contaminado pela estultice. O jazz, sempre o jazz, minha inquebrantável tábua de salvação.
Wayne Shorter era um homem bonito, elegante, tocava o fino. Descendente de escravos como todos os afro-americanos. Contribuiu para a afirmação cultural e social do seu povo, a despeito da intolerância ainda hoje viva no país, e se vai com a estatura de um gigante. Como tantos que
ajudaram a edificar o maior dos gêneros musicais. Como tantos que ajudam a fazer da vida uma experiência valiosa.
*
Zico foi um dos jogadores mais completos que vi jogar: exímio finalizador e cobrador de faltas, visão e leitura do jogo perfeitas, habilidade e talento inigualáveis nos passes e lançamentos. Só tenho a celebrar por ter vivido na mesma época desse gênio, que honrou como ninguém a camisa do Mengão. Mais do que um ídolo, Zico foi uma espécie de elo que me uniu ainda mais a meu pai durante a infância. Por tudo isso, só tenho a agradecer ao eterno Galinho de Quintino, que completa 70 anos. Pelos títulos, pelas alegrias, pelo exemplo. Vida longa, Mestre!

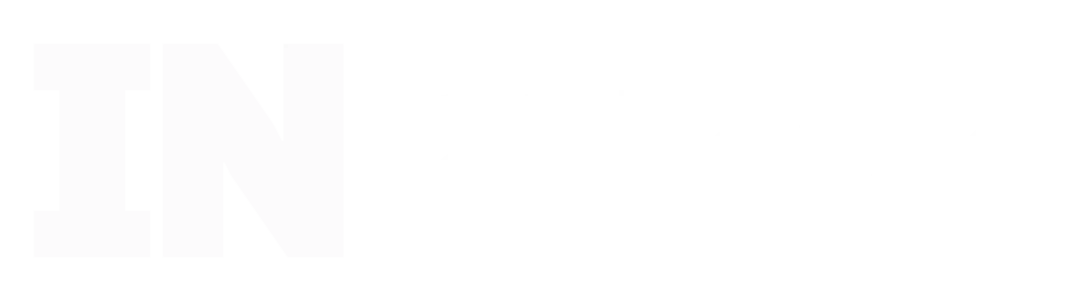



No Comment! Be the first one.