Os joelhos de Schiele
Algumas vezes na vida eu tive um alumbramento com a arte. A ponto inclusive de irromper num choro incontrolável, mesmo que por segundos. Ou saltar da cadeira, me revirar com tamanha beleza vinda do palco.
Poderia, de súbito, citar alguns acontecimentos. Ver a obra A Praça, de Giacometti, num museu de Berlim, já há 6 meses longe de casa. Terminar a leitura de As Velhas e Memórias de Lázaro, de Adonias Filho. Ouvir o Quarteto nº 2 de Borodin, no Teatro Castro Alves, com o quarteto de cordas La Scala, de Milão.
Bibi Ferreira cantando e recitando trechos de seus espetáculos no Teatro Carlos Gomes. Rever Lub Dub, do Balé de Teatro Castro Alves, num domingo no TCA, ou assistir à primeira apresentação da companhia de Pina Bausch, depois de sua morte, dançando suas duas maiores obras: Café Müller e A Sagração da Primavera.
Num vídeo tosco que gravei apenas para lembrar do momento e das obras que ali estavam, filmei uma sala do museu Belvedere, em Viena, onde a emoção foi tamanha que não controlei as lágrimas. De todos os grandes museus que tive oportunidade de visitar, nenhuma sala, nem de longe, me causou tanto impacto quanto essa. Obras de Egon Schiele e Gustav Klimt, selecionadas a dedo por suas cargas de tristeza, dor e expressão, fizeram-me disfarçadamente encostar num canto e gastar algumas poucas lágrimas.
Dessa sala, tirei apenas duas fotos. De dois joelhos. Sim, sequer tirei foto de alguma pintura inteira, ou panorâmica. Sentia, ali, que qualquer registro com intuitos maiores que o mero registro não trariam a carga de emoção de ver aquelas obras ao vivo.
Pois, não faz muito tempo, o Google fotos me lembrou de uma das fotos de um joelho.
A intenção de captar aquele joelho era tão somente, e mais que tudo, guardar as pinceladas rápidas, aparentemente mal feitas, descuidadas, bem como a escolha de cores excessivamente cheias de nuances, mas, ao mesmo tempo, tão uniformes e harmoniosas.
Que se pense em coincidência. Aceito. Busquei a obra, ao sentar para escrever, e seu nome é A Família. Última (e inacabada) obra de Egon Schiele.
Schiele morreu de gripe espanhola pouco tempo depois de seu mestre, Klimt, morrer de derrame e pneumonia. E três dias depois de sua esposa, grávida de seis meses, ter morrido, também.
Claro que não dariam ponto sem nó. A sala traz, talvez, os epitáfios desses dois gênios das artes.
Na pintura, cada personagem está com um olhar vazio numa direção, enquanto o homem, alter ego de Schiele, olha vazio pra gente. Duvidamos, por alguns instantes, se ele realmente olha pra gente, através da gente, ou se ele sequer está realmente olhando.
Os verdes artificiais das peles do pai e da mãe encontram no filho o tom da morte, da doença, algo fantasmagórico. As cores infantis, emboladas na criança, estão ali represadas, embalando o bebê que se abraça às cores, se auto nina, ou se auto acolhe, enquanto os braços da mãe caem mortos, aos lados dela. A sensação que nos dá é que ela está ali desde o parto, e a criança cresceu solitária. Uma mancha verde escorre por eles, e uma réstia de azul parece um pedaço de céu desabado, na esquerda.
A pintura intriga porque, ao olhar atentamente, vemos pinceladas artificiais em demasia. Manchas verdes, ocres, tirando a naturalidade aparente do quadro, sua realidade superficial.
Há muitos outros detalhes incríveis a serem observados. As mãos e pés ausentes da mãe. As frágeis mãos, que parecem incapazes de se agarrar a algo, da criança. E uma expressiva mão do pai, que parece querer se apoiar artificialmente no peito, fugindo de qualquer toque mais natural, enquanto a outra, inacabada, é apenas um rascunho inútil a se desmanchar nas manchas lúgubres da atmosfera soturna da pintura.
Mas por que então eu tirei duas fotos? A do joelho direito (de quem vê) da mãe e esquerdo do pai?
Ao aproximar a imagem, as pinceladas rápidas parecem confundir mais que definir a pele, os músculos, as sombras. E, no entanto, são essas manchas, muitas delas evidentemente finalizadas sem precisão, revelando as cerdas do pincel, que dão vida à pintura, trazem todo sentimento, e fazem a pintura se tornar real naquilo que a arte tem a nos oferecer: uma outra vida, uma outra percepção da realidade, que nos toca pela dor, pela beleza, pelo amor, pela poesia, pela estranheza ou pela fantasia.
Nenhuma foto que eu tirasse me possibilitaria apreciar a pintura como o fiz ao vivo. As fotos, ruins, que tirei dos joelhos, não foram para registrar a pintura, sequer a técnica, a arte de Schiele.
Conscientemente, ou não, eu registrava ali, para que mais tarde eu lembrasse, qual a verdadeira força da arte que eu acredito. Quais caminhos penso que o artista deva tomar rumo a um mundo desconhecido da gente, mas espelho retorcido de nossas próprias dores, nossos próprios amores.
É assim que me chegam as figuras lânguidas, se desmontando como castelos de areia, na praça de Giacometti. É assim que o épico deslumbrante e o lírico angustiante das palavras de Adonias se entrechocam numa literatura plural, forte, particular e de um nível poucas vezes visto por mim. É assim que a beleza esgarçada e escancarada da música de Borodin; a força, a história e o talento de Bibi; a talvez melhor leitura da cultura baiana que já vi, sob a ótica artística, em Lub Dub; e as tão distintas e tão emblemáticas danças de Pina Bausch me emocionam, me encantam, me perturbam.
A arte precisa perturbar, enquanto encanta. Precisa deslumbrar, enquanto incomoda.
É assim que das pernas abertas do pai, com ainda um pouco de vermelho, a mãe se recosta cobrindo seu sexo, mais exangue, e das pernas abertas da mãe a criança se embala cobrindo o sexo dela, já totalmente pálido e verde. O que não se releva, se escancara daqueles joelhos e canelas. Naquelas cores que se misturam, quentes e frias, os verdes e amarelos, ocres, que estão na roupa do menino, e nas pinceladas dos três rostos, das três peles. O verde tomou conta da cena, se derramando, escorrendo na tela.
Está tudo ali, naqueles joelhos. Distorcidos, borrados, grotescos, até. Mas de uma beleza doída, profunda, e demasiado humana em suas deformações.
Como, ao tirar as fotos, eu quis lembrar que a arte tem que ser para mim.
E como eu gostaria que a arte pudesse chegar, cada vez mais, a mais pessoas.

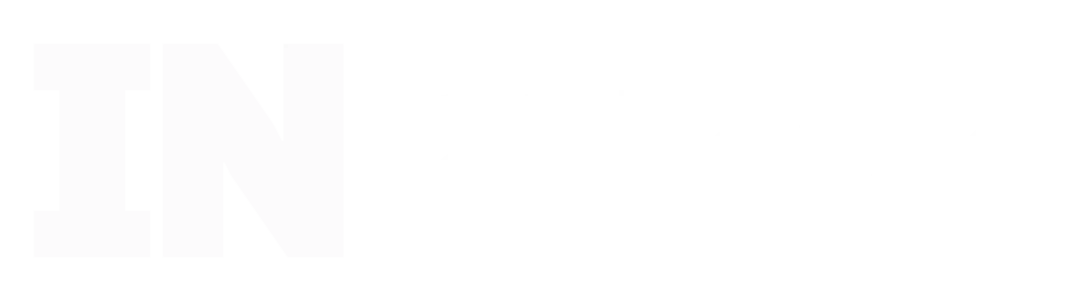



No Comment! Be the first one.